
Nação fast-food: O declínio do ‘american way of life’
| Reprodução | ||
| | ||
| Cartaz de divulgação do filme | ||
• Nação Fast Food – Uma rede de corrupção (Fast Food Nation) traz às telas uma das mais duras críticas cinematográficas ao padrão hegemônico estadunidense, em especial ao mito da sociedade da oportunidade e da livre iniciativa. Contando com elenco de respeito, com nomes como Ethan Hawke, Patrícia Arquette, Bruce Willis e Greg Kinnear, Nação Fast Food é, sem dúvida, tributário de dois filmes que o precede.
O primeiro é Super Size Me – A dieta do palhaço, que mostra as dores e complicações por que passa o roteirista, diretor e ator desse filme-documentário, Morgan Spurlock, que decide comer somente no McDonald’s durante um mês inteiro. O resultado é uma dura crítica ao padrão de consumo dos restaurantes fast food, voltado para as crianças e baseado em produtos com alto teor de açúcar e gordura que levam o protagonista a ter sérias complicações físicas ao final desse penoso mês de tortura auto-imposta.
O segundo é Silver City, que lança uma série de inteligentes críticas à especulação imobiliária, à corrupção e aos graves problemas ambientais envolvidos no desmatamento inescrupuloso que deve ser levado a cabo para dar lugar aos novos condomínios de luxo.
Por seu turno, Nação Fast Food conta a história do executivo Don Henderson (Greg Kinnear), gerente de marketing de uma grande cadeia de restaurantes de fast food que é designado para investigar o porque dos índices muito elevados de coliformes fecais encontrados na carne dos hambúrgueres comercializados por sua empresa e detectados por uma auditoria independente, antes que ela venha a fazer um novo lançamento de mercado, na tentativa de evitar a péssima imagem que este fato possa causar no público consumidor caso venha à tona.
Mas isso não basta para definir adequadamente o filme Nação Fast Food, pois ele vai além, na abordagem, não se limitando aos temas e referências citados, que já não são poucos, mas abrindo o foco para uma gama enorme de outros assuntos, dentre eles o processo de imigração (forçada), as condições de trabalho (desumanas), os padrões de vigilância sanitária (inaceitáveis até pouco tempo atrás), etc.
Sobre este último tema, o que trata do padrão de vigilância sanitária, vale uma explicação à parte, pois não se trata de uma afirmação categórica de que toda a produção industrial de alimentos estadunidense está abaixo dos níveis mínimos de higiene. No filme, usa-se um exemplo apenas, o da produção em massa de carne de hambúrguer, que por conta de uma produção aceleradíssima e desinteressada em alguns “custos” sociais (falta de higiene, contratação de empregados ilegais e mal treinados, dentre outros), acaba por se tornar um centro onde pululam os acidentes de trabalho e onde a carne vendida apresenta níveis totalmente inapropriados para o consumo.
O dono da fábrica de hambúrgueres, que atende de forma centralizada todos os EUA, é interpretado por Bruce Willis e não tem pudor algum em afirmar: “como é que você espera que eu consiga um contrato tão bom para vocês, vendendo cada unidade a apenas 8 centavos (de dólar), se eu tenho que diminuir minha produção e ainda tomar esses cuidados todos?”. E ainda arremata, sem dó nem piedade: “de vez em quando todos nós temos que engolir um pouco de merda”. Infelizmente, somos nós, consumidores, que a engolimos e é duvidoso acreditar que os grandes executivos e empresários sigam uma dieta tão “suja”.
Percebe-se ao longo do filme um vago desejo “de fazer alguma coisa” inspirando alguns personagens, que não se conformam totalmente com a imobilidade que lhes é empurrada, ante o peso avassalador das megacorporações. Tal como afirma o grande historiador Eric Hobsbawm, as pessoas começam a perceber que “o capital é tão rígido como uma monarquia absoluta”, não admitindo quaisquer entraves aos seus processos de circulação/acumulação.
Contudo, e infelizmente, todas as questões levantadas no filme, e mesmo as críticas que são expostas, não chegam a fazer de Nação Fast Food um filme político como, para citar um exemplo apenas, Sindicato dos Ladrões, protagonizado por Marlon Brando em 1954. Falta, sem dúvida, uma análise mais contundente sobre as causas daquilo que é mostrado no filme como sendo uma mera “distorção” do sistema, como o próprio subtítulo em português deixa transparecer, passível de conserto dentro desse mesmo sistema. Fica parecendo que temos, convenientemente, os “mocinhos” e os “bandidos”, e que basta tirar os bandidos que tudo ficaria perfeito. Nós sabemos que não é assim.
Ficha Técnica:
Título Original: Fast Food Nation
Gênero: Drama
Tempo de Duração: 114 minutos
Ano de Lançamento: 2006 (EUA)
Direção: Richard Linklater
Roteiro: Eric Schlosser e Richard Linklater, baseado em livro de Eric Schlosser
Montagem: Sandra Adair
Produção: Malcolm McLaren e Jeremy Thomas
Música: Friends of Dean Martinez
Fotografia: Lee Daniel
Desenho de Produção: Bruce Curtis
Direção de Arte: Joaquin A. Morin
Figurino: Kari Perkins
Elenco: Erinn Allison (Shannon), Patricia Arquette (Cindy), Mitch Baker (Dave), Bobby Cannavale (Mike), Michael D. Conway (Phil), Paul Dano (Brian), Frank Ertl (Jack Deavers), Luis Guzmán (Benny), Ethan Hawke (Pete), Aaron Himelstein (Andrew), Ashley Johnson (Amber), Greg Kinnear (Don Henderson), Kris Kristofferson (Rudy), Avril Lavigne (Alice), Cherami Leigh (Kim), Jason McDonald (Riley), Bruce Willis (Harry)
mais sobre este filme:
Nação Fast Food
Richard Linklater e a indústria da comida processada
Toda hora chegam às telonas os chamados "feel-good movies", aqueles filmes que fazem com que você se sinta bem, feliz da vida, na saída. Bem mais raros são os longas que ocupam do outro lado do espectro, os "feel-bad movies", que fazem o público olhar seu umbigo e pensar a respeito. Nação Fast Food (Fast Food Nation, 2006) é definitivamente um exemplo do segundo tipo.
O drama do sempre competente e versátil Richard Linklater - de filmes tão bons quanto díspares como Antes do pôr-do-sol, O Homem Duplo e Escola de Rock - se baseia no best-seller de não-ficção de Eric Schlosser, publicado em 2001, sobre a indústria da comida industrializada. O tema é basicamente o mesmo de Super size me - A dieta do palhaço, mas, diferente do documentário de Morgan Spurlock, mira mais alto que o mero valor nutricional dos alimentos servidos nas redes de restaurantes.
Através de várias histórias paralelas, Linklater tenta abraçar toda a, com o perdão do trocadilho, "cadeia alimentar" de uma corporação desse mercado. Mostra o desenvolvimento de um produto, o hamburguer "Grandão", desde o processamento da carne até o marketing para comercializá-lo. Nesse meio conhecemos imigrantes ilegais, empresários, supervisores, balconistas, chapeiros... pequenas engrenagens de uma máquina cujo único objetivo é o maior lucro possível.
O foco é, obviamente, o popularíssimo McDonald´s, com um nome alterado para Mickey´s (nos EUA o apelido da rede é "Mickey D") e a trama começa quando o presidente da companhia destaca Don Anderson (Greg Kinnear), um diretor de marketing de sucesso, para investigar um achado em um dos hamburgueres congelados da empresa... estrume. Ele parte então para Cody, no Colorado, onde toda a carne do "Grandão" é processada.
Linklater critica muito além da indústria alimentícia. Para ele, "fast food" é toda sorte de atendimento/processo que emprega pessoas como robôs. É o balconista de hotel incapaz de ouvir, repetindo exaustivamente as mesmas frases prontas; é a caixa da lanchonete que oferece sempre as mesmas ofertas; mas poderiam ser também as operadoras de telemarketing incapazes de resolver um problema que não esteja listado em sua frente; ou o suporte técnico que te olha como louco quando seu problema real inexiste nas FAQs... mas todas essas pessoas, fora do expediente, são... enfim... pessoas. E Linklater também faz questão de mostrar isso, como um brilhante contraponto às suas identidades corporativas. O diretor preocupa-se em desenvolver cada um de seus protagonistas, dando a eles uma alma, que é devorada dia-a-dia no cotidiano mecânico desses processos, sem recorrer jamais ao melodrama ou buscando polêmicas forçadas.
E o cineasta sequer está preocupado em apontar dedos. Não busca culpados dentro de sua estrutura. Todos são culpados e vítimas, mesmo os que estão no mais alto escalão. Afinal, não foi o presidente da empresa que pediu a investigação? O imigrante ilegal não cruzou a fronteira por livre e espontânea vontade? Não somos nós que consumimos os produtos dessas empresas?
"Feel bad", "feel very bad"...
::
Razões para a Guerra
Download
Título Original: Why We Fight
Direção: Eugene Jarecki
Países produtores: Estados Unidos, França, Inglaterra, Canadá, Dinamarca
Ano: 2005
Duração: 98 minutos
Idioma: Inglês
Cores: Colorido
Som: Stereo
mais sobre este filme:
Razões para a Guerra
Blowback: termo usado para descrever as consequências negativas resultantes de operações da CIA, geralmente em países cujas relações com os EUA estão estremecidas. Obviamente, blowbacks são sempre mantidos em segredo a qualquer custo para não desgastar a imagem do governo norte-americano. Dessa forma, quando governos ou organizações que foram objeto desses ataques dissimulados se vingam, atacando alvos ianques, a opinião pública americana sente-se injustamente perseguida, perguntando-se porque seu país é tão odiado.Exemplo: os ataques de 11 de setembro.
Acabei de assistir um documentário sensacional, Razões para a Guerra (Why we Fight). Não trás nenhuma informação bombástica que já não sabíamos previamente, à primeira vista é apenas mais uma voz do coro mundial contra Bush. No entanto, a forma como articula diversos fatos sobre a indústria bélica norte-americana e sua relação com o Estado fornece uma explicação definitiva sobre os motivos que levaram os EUA a se auto-proclamarem o Império Romano dos nossos dias.
O documentário chama a atenção para uma anomalia que passou despercebida na cobertura da mídia sobre o ataque às torres gêmeas. O ódio e a indignação eram tamanhos que ninguém investigou a fundo sobre os verdadeiros motivos que levaram os radicais islâmicos a perpetrarem atentados tão bárbaros. A mídia, afinada com o governo, tratou de simplificar ao máximo a questão: atacaram porque são bárbaros primitivos inimigos da liberdade e democracia. Então tá. Os americanos engoliram essa retórica maniqueísta do jeitinho que Bush queria. Amedrontados, tornaram-se facilmente manipuláveis. O mesmo discurso foi usado para justificar a guerra no Iraque, depois que descobriu-se que Bush sempre soube que Saddam não tinha armas de destruição em massa. Se Saddam era tão nocivo à ordem mundial, como se explica o apoio que recebeu dos EUA na guerra contra o Irã de Khomeini? Se Bin Laden era aquele monstro que pintaram, que diabos os americanos faziam ajudando-o na guerra do Afeganistão?
Uma das "verdades" inquestionáveis sobre a participação dos EUA na Segunda Guerra é que se o Presidente Truman não tivesse jogado as bombas atômicas, o combate se estenderia por muito mais tempo e centenas de milhares de soldados americanos morreriam até o Japão se render. Será que a rendição estava tão distante assim, mesmo com seus parceiros do Eixo já tendo capitulado? Hoje há indícios que levam a crer que as bombas foram usadas como uma espécie de recado para o mundo inteiro, sobretudo para a URSS de Stálin: há uma nova liderança mundial indiscutível, os EUA.
O fato é que guerras podem ser extremamente lucrativas e a demanda maciça por artefatos bélicos durante a guerra tinha que continuar nas décadas seguintes. Criou-se um círculo vicioso: o complexo industrial militar cresceu de forma assustadora, de modo que tornou-se um grande financiador de campanhas políticas para manter seu status. E os políticos perceberam que se encontrassem formas de manter a demanda por armamentos em ascensão todos sairiam ganhando (todos os americanos, somente eles, é claro). A economia se manteria aquecida, trazendo prosperidade para a população, os políticos teriam recursos enormes para suas campanhas e o tal complexo ganharia tamanha importância que, se sua produção caísse, toda a economia do país sentiria o impacto.
Assim, a guerra fria caiu como uma luva nesse contexto. A desculpa era zelar pela democracia e liberdade lutando contra a ameaça comunista onde quer que ela existisse. Os motivos reais eram inventar razões para o gigantismo das forças armadas e criar e manter mercados para alimentar o sistema capitalista. Mas o comunismo entrou em colapso, era preciso encontrar novos inimigos.
A guerra no Iraque não é um evento isolado: em todos os governos americanos, sobretudo no pós-guerra, houve intervenções militares em outros países. Apenas um dia depois do 9/11, a cúpula de Bush já estudava a invasão do Iraque a fim de assegurar o fornecimento de petróleo a baixos custos. Ironicamente, os EUA se tornaram reféns das forças que supostamente deveriam defendê-los. O orçamento para a defesa é maior que todas as outras áreas somadas. Só para ilustrar: o dinheiro empregado para construir apenas um destróier é suficiente para criar moradias para 8.000 pessoas. Com um preço de um avião bombardeiro pode-se construir 30 escolas. O vice de Bush, Dick Cheney sempre esteve ligado a uma megacorporação que inclui a manufatura de produtos bélicos, a Halliburton. Aliás, o patrimônio de Cheney era de US$ 1 milhão quando ganhou as eleições. Em 5 anos passou para US$ 60 milhões.
Usando uma metáfora bem desgastada, mas nem por isso irreal, os EUA são o Dr. Frankenstein e o complexo industrial militar a criatura que ficou forte demais e fugiu do seu controle. Hoje em dia as guerras são um fim em si mesmas. Difícil imaginar algo tão perversamente insano.
Fonte: A Matéria do Sonho
::
“O Senhor das Armas” e a lógica destrutiva da Ordem do Capital
| por Roberto Barros |
| Divulgação | ||
| | ||
| Cartaz do filme | ||
• A câmera acompanha o percurso de um projétil. Não aquele previsto pela balística, a ciência que se ocupa da trajetória da munição disparada pelas armas de fogo. É um olhar atento para a totalidade das relações sociais que antecedem a rajada derradeira, envolvendo a produção, distribuição, circulação e consumo em regiões (e situações) tão distantes entre si quanto os EUA, o Oriente Médio, a África Ocidental, o Leste Europeu e a América Latina. A bala em questão aloja-se, ao fim do percurso, no crânio de uma criança negra. Esta é uma das seqüências – o “ciclo de vida” de uma bala de um rifle soviético 7.62x39mm – que dá início ao filme “O Senhor das Armas” (1 ), protagonizado pelo norte-americano Nicolas Cage (“Despedida em Las Vegas”) e dirigido e roteirizado pelo neozelandês Andrew Niccol (“O Show de Truman”), em cartaz no circuito nacional.
O recurso à elipse narrativa – que condensa os principais aspectos de um argumento em poucos segundos de projeção visual – introduz o espectador, logo de entrada, no universo da indústria bélica. Em uma rua inteiramente coberta por balas dos mais diversos calibres, Yuri Orlov (Cage) logo dispara dados, estatísticas e cifras sobre o ramo da economia capitalista no qual atua. “Existem mais de 550 milhões de armas de fogo em circulação no mundo. Isso significa uma arma para cada 12 pessoas. A única pergunta é: como armar as outras 11?”, diz o personagem, o próprio retrato do anti-herói, sem demonstrar qualquer traço de consternação moral.
Yuri Orlov: do bairro imigrante ao tráfico internacional
A narração em off é feita pelo próprio Yuri Orlov – traficante de armas de origem ucraniana que imigra, ainda na infância, para os EUA –, que desta forma garante a epopéia do personagem, ou seja, a apresentação de sua origem, suas principais motivações e a evolução da trama. Baseado em entrevistas de cinco grandes traficantes internacionais de armas, o personagem de Cage – criado na comunidade imigrante de Little Odessa, em Nova Iorque – sintetiza a personificação histórica do capitalismo contemporâneo, numa de suas facetas mais cruas, duras e desnudas possíveis. Longe de se perder submergido em obscuros fluxos de consciência – função usualmente cumprida pela narração onisciente em roteiros mal-estruturados – os comentários do traficante emprestam textura e cores à análise do mercado mundial de armas. A acuidade da pesquisa de campo, as entrevistas e o notável distanciamento crítico dos realizadores não impedem que a sátira ferina transforme esta tragédia real numa farsa bem representada nas telas.
As coordenadas históricas que compreendem a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (ex-URSS) e o fim do que se chamava “Guerra Fria” – que polarizou o mundo em zonas sob influência de Moscou e Washington – constituem o signo fundamental a atravessar os argumentos retratados na película. A família Orlov deixa a Ucrânia, ainda sob controle da burocracia moscovita, reivindicando asilo político em função da pretensa ascendência judaica. Ainda sustentando a falsa identidade, abrem um restaurante tradicional (“koscher”) em Brighton Beach, Nova Iorque, no qual trabalham os dois filhos da família, Yuri e Vitaly Orlov (Jared Leto). Sem perspectivas para realizar suas ambições financeiras e amorosas – já que nutre paixão platônica pela modelo e também ucraniana Ava Fontaine (Bridget Moynahan) –, relativamente habituado aos níveis de clandestinidade que se exigem de qualquer trabalhador imigrante em países imperialistas e às voltas com a máfia russa em sua vizinhança, decide-se pelo tráfico de armas. Que Hollywood tenha exigido ao roteiro de Niccol uma solução narrativa em forma de epifania – do grego epiphanei, aparição ou manifestação divina – não é qualquer novidade. Desta forma, enquanto testemunha um tiroteio entre gangues rivais no restaurante vizinho, Yuri – em interessante interpretação de Cage – é acometido por uma “revelação” que interrompe o fluxo de continuidade e muda o rumo de sua vida: “As pessoas entram no negócio de restaurantes porque, afinal, todos têm que comer. Naquele dia descobri que meu destino repousava no atendimento de outra necessidade humana elementar: a de matar”. Quando já se iniciara no comércio, recruta o jovem Vitaly, ironicamente chamado “irmão de armas”, para expandir o negócio em nível mundial.
A “velha” e a “nova” ordem
A corrida armamentista que precedeu a queda do Muro de Berlim e a extinção da ex-URSS deu lugar ao que muitos consideram o maior assalto do final do século XX. O enorme e subitamente disponível arsenal de morteiros, rifles e mísseis – além de canhões, helicópteros e tanques – foi negociado entre militares soviéticos, traficantes e facínoras de diversas estirpes, tendo como destino principal a África Subsaariana, assolada por incontáveis conflitos armados – como os da Libéria, Serra Leoa e tantos outros – e quase permanentes guerras civis. Somente na Ucrânia, entre 1982 e 1992, mais de US$ 32 bilhões em armas foram ilegalmente vendidas sem que tenha havido sequer uma prisão ou processo judicial. Em um de seus muitos comentários cinícos, Orlov diz que “depois da vodca, do caviar e dos romancistas suicidas; o maior produto de exportação russo é o rifle de assalto AK-47”. A riqueza de detalhes operacionais, logísticos e técnicos do tráfico internacional faz com que o ponto de vista daqueles que mediam o comércio de armas – na zona de penumbra intencionalmente sustentada pelo mercado mundial, entre a legalidade e a clandestinidade – seja adotado pelas lentes de Niccol e, inevitavelmente, pelos incomodados olhos do espectador. As práticas de criptografar códigos, forjar múltiplas identidades, manter diversas bases de operação, burlar a burocracia, subornar oficiais e, por exemplo, transformar helicópteros de guerra em veículos de supostas missões humanitárias, são amplamente exploradas.
Quando ainda era um verdadeiro iniciante (e amateaur) no negócio de armas, Yuri e seu irmão caçula vão à Feira Mundial de Armas, na Berlim de 1983, para encontrar Simeon Weisz – interpretado pelo veterano Ian Holm (o tio de Frodo, em “Senhor dos Anéis”) – o verdadeiro papa do comércio de armas do período anterior ao fim da Guerra Fria. Segundo Orlov, a maior parte do negócio nos anos 80 – um “clube fechado, com um presidente vitalício” – era feita entre os governos dos países diretamente envolvidos nos conflitos. Ao aproximar-se, propondo-lhe um novo negócio, Orlov ouve de Weisz: “Eu não acho que estamos no mesmo ramo. Você acha que eu só vendo armas? Não, eu tomo posição. Balas mudam governos mais rapidamente que votos. Você está no lugar errado, meu jovem amigo”. Quando já se encontrava a alguns passos de distância, Orlov dispara: “Mas e a guerra Irã-Iraque? Você vendeu armas para os dois lados”. Ao que Weisz, visivelmente irritado, retruca: “Nunca lhe ocorreu que às vezes é melhor que nenhum lado vença?”.
“Senhor das Armas” e a lógica destrutiva da Ordem do Capital
O teor da trama de “Senhor das Armas” configura-se como uma reflexão crítica sobre o Capital em uma de suas engrenagens de funcionamento mais contraditório: a indústria bélica. Não tendo limites inexoráveis em sua tendência à expansão – a não ser a luta de classes, viva e real, e a própria natureza –, o sistema capitalista torna-se quase incontrolável. O espectro da barbárie capitalista, já possível de vislumbrar enquanto possibilidade histórica real, desenha-se através das tendências expansionistas, destrutivas e, no limite, incontroláveis da Ordem do Capital, que convergem cada vez mais na forma de uma crise estrutural do sistema capitalista. Como compreender a forma de existência histórica assumida pelo sistema capitalista – que faz coincidirem no tempo crises econômicas crônicas, acirradas disputas por mercados e guerras neocoloniais como braço armado da mundialização – senão lançando mão do conceito de imperialismo de Lenin, como novo marco epocale e estágio decadente da ordenação capitalista?
A lógica imperialista, largamente intensificada, determina o processo de mundialização em curso. Trata-se da lógica imanente dos grandes monopólios – a bestial concentração de poder tecnológico, militar e diplomático; a acumulação de riquezas sociais e capital financeiro em poucas mãos e países –, que perpetua e aprofunda a miséria social que devasta povos inteiros da África, Oriente Médio, Ásia e América Latina. É esta mesma lógica que faz das guerras e da indústria bélica um lócus privilegiado de reprodução ampliada da Ordem do Capital. A necessária (e lucrativa) destruição de forças produtivas em larga escala assume, então, a forma de guerras, crises e contra-revoluções.
Ao capitalista individual lhe é indiferente se produz, distribui, troca ou comercializa produtos para curar vidas ou para tirá-las. Das conseqüências sociais indiretas da produção capitalista, mais ou menos remotas, só lhe preocupa (ao capitalista individual) os resultados mais imediatos e palpáveis de suas práticas. Pior ainda; inclusive esta mesma utilidade – o “valor-de-uso”, utilidade social da mercadoria produzida ou trocada – passa por completo para o segundo plano, emergindo como único incentivo o lucro obtido da venda, o “valor-de-troca”. Quando um capitalista – industrial ou comercial; legal, semi-legal ou clandestino – vende a mercadoria produzida ou comprada pelo mesmo e obtém daí seu lucro habitual (sempre o máximo possível, independentemente das condições impostas), dá-se por satisfeito e não lhe interessa o mais minimamente o que possa vir a ocorrer depois com esta mesma mercadoria, ou mesmo com seu comprador. A analogia justifica-se ainda por outro filme em cartaz – “O Jardineiro Fiel” –, que versa sobre “o mundo obscuro das multinacionais farmacêuticas (...) com tremendos recursos e poder econômico ... que não pensam duas vezes antes de testar drogas novas nas miseráveis populações do terceiro mundo”, nas palavras de Kirk Honeycutt (Hollywood Reporter). Só isto já valeria um paralelo – muito pouco explorado pela crítica especializada, diga-se de passagem – com a tão festejada adaptação literária do diretor brasileiro Fernando Meirelles.
Os limites da visão do capital
Apesar de sua aparente criticidade, aí começam a se esboçar os limites e a natureza do filme em si. Toda a crítica concentra-se, prioritariamente, num apelo moral ao comércio ilegal de armas que assola o mundo. A crítica ao capitalista individual – enquanto entidade atomizada e a-histórica – impede que, ao final, a trajetória apresentada inverta o percurso inicialmente esboçado pela mesma bala do rifle 7.62x39mm, a menor unidade da indústria bélica, chegando ao ponto de partida da qual iniciara seu itinerário: a produção. Ao sistema de troca e comercialização antecede uma determinada forma ou modo social de produção – largamente “legítimo”, “legal” e apoiado no Estado –, sobre o qual um pequeno punhado de conglomerados tecnológico-militares detém o mais absoluto monopólio. E esta “legalidade” nada mais é do que a infra-estrutura material que dá suporte ao amplamente “regularizado” – através de regras e normas de conduta, escritas e não-escritas – comércio de armas internacional.
Daí que resvale num pacifismo liberal e abstrato, igualando a assimétrica luta de opressores e oprimidos, diluindo antagonismos e mitigando contradições. Trata-se, na verdade, da própria visão social de mundo burguesa. Mais precisamente o capital europeu – que financiou o projeto, da filmagem à distribuição – em suas adstritas diferenças com o imperialismo norte-americano. A violência de tanques de última geração, bulldozers e caças-aéreos do Estado israelense – a segunda potência militar do planeta – não pode ser comparada à resistência de palestinos – pedras, fundas e velhas baionetas à mão – quando estes lutam pela defesa da libertação de seu povo.
Trata-se, em última instância, da linha de menor resistência ao Capital. Não se opondo à extração, acumulação e concentração de mais-valia – quantum social de trabalho excedente expropriado pelos proprietários dos meios fundamentais de produção – da classe-que-vive-do-próprio-trabalho, mantém-se intocada a constituição histórica e estrutural da valorização do Capital lastreada centralmente na exploração material do Trabalho e, subseqüentemente, dos trabalhadores. Desta forma, não como há como questionar de forma conseqüente a indústria bélica. Reaver o controle e o domínio da maioria da população sobre a produção social não se trata exclusivamente de se apropriar de um conhecimento mas, para além dissso, é necessária uma revolução social que transforme por completo o modo de produção existente e, com este, a ordem social vigente.
Yuri Orlov: contradição em processo
Simultaneamente atraída pela impetuosa interpretação de Nicolas Cage e repelida pelo realismo da crítica de Niccol, as imprensas nacional e internacional orbitaram ao redor da forma social de consciência apresentada pela tortuosa mente do traficante Orlov, ou seja, a forma como concebia suas próprias práticas. A personalidade do traficante – esteticização da existência baseada em personagens reais do tráfico de armas – trata-se do aspecto mais impressionista do filme. O brilhante objeto de arte que constitui o cartaz do filme – quadro do busto de Orlov que, à proximidade, revela-se constituído tão-somente de balas e rifles de diferentes calibres – já indicaria de forma alusiva, se preciso fosse, que a indidualidade de Orlov não se trata de aspecto fundante da presente proposta de trabalho. Ainda assim os adjetivos (tanto para a interpretação de Cage quanto para a caracterização do personagem) abundaram: soberba, garbo, indiferença e galhardia. O diretor mesmo chamou-o “diabo charmoso”, portador de códigos morais e padrões éticos diferenciados, capaz de vender armas para ditadores em alguns dos países mais pobres do globo – teria vendido inclusive para o afegão Osama bin Laden, como fizeram as classes dirigentes dos EUA, “mas seus cheques viviam voltando” – ao mesmo tempo que não quer ver seu filho com uma pistola de brinquedo.
O conflito de consciência – concebido como algo que se sintetiza a si mesmo – é consubstanciado pelo irmão caçula, pela esposa Ava – para a qual Orlov mente sistematicamente sobre a origem de seus rendimentos – e, em menor medida, por Jack Valentine (Ethan Hawke), um incansável agente da Interpol constantemente em seu encalço. Os rompantes morais de Vitaly irão levá-lo ao colapso físico e psíquico – entorpecentes incluídos –; a ostentação material de Ava encontrará rédeas (não tão) curtas num dilema familiar de difícil solução – chegando ao impasse – e, por fim, a perseguição jurídico-policial de Valentine levará nosso (anti) herói à prisão. O auge de sua exasperante condição dá-se quando é obrigado por seu maior cliente – o maníaco ditador liberiano André Baptiste (Eamonn Walker) – a disparar o gatilho, com seus próprios dedos, sobre seu principal adversário: Weisz. A subjetividade fragmentada, desterritorializada e volatilizada de Orlov – reflexo mais acabado do processo de produção internacional do próprio capitalismo contemporâneo – já não se encontra mais em harmonia com a ambiência que a circunda. Neste momento, Orlov consome “brown-brown”, uma mistura de cocaína e pólvora usada como estimulante por guerrilheiros africanos. O pesadelo (ou paranóia?) de Orlov – vivenciado pelos olhos bem abertos da câmera de Niccol – é captado em plano distanciado de cores frias, quando foge do perigo letal representado pelo vírus do HIV (prostitutas de luxo), por facções rivais a Baptiste e inclusive por uma matilha de hienas. Como um vampiro – condenado a vagar pelas trevas e se alimentar do sangue alheio – Orlov torna-se “imortal”.
Mas como as obras artísticas assumem relativa autonomia em relação às conjunturas materiais e ideológicas nas quais se inscrevem – não porque assim o queira (ou deixe de querer) a tradição marxista (ou qualquer outra) de crítica ou ensaísmo cultural, mas sim porque se cria uma realidade interdependente, com suas próprias tendências de movimento, que exige instrumentos de mediação específicos – deve-se sublinhar que o filme de Orlov contém in nuce os germes de sua própria superação. O diálogo final de Orlov e Valentine define cristalinamente o lugar que ocupam, ao lado dos Estados e da institucionalidade jurídico-política – os grandes traficantes internacionais de armas no sistema mundial capitalista. Ao final do filme, lê-se que os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas – Estados Unidos, Alemanha, França, Rússia e China – são também os maiores produtores de armas e que, por fim, o filme baseia-se em fatos reais. A História, afinal, abre o caminho.
NOTAS
(1) O título do filme – “Senhor das Armas” (“Lord of War”) – alude indiretamente ao conceito de “senhor-de-guerra” (“Warlord”). Trata-se de uma expressão, utilizada de forma pejorativa, para se referir àqueles que detém o controle político ipso facto sobre uma região sublevada pela força das armas. A designação remonta ao Japão do século XVI, dilacerado por contínuas guerras entre senhores rivais que – dotados de castelos, território, vassalos e exércitos próprios de Samurais – lutavam em plena sociedade feudal. Os imperadores alemães também se utilizavam da terminologia (“Kriegsherr”). Atualmente, a imprensa burguesa de países como EUA e Inglaterra utiliza-se amplamente do termo para legitimar as ofensivas militares de seus respectivos imperialismos sobre nações oprimidas de diversos rincões do globo.
::
Estatísticas brasileiras:
17 milhões de armas de fogo estariam em circulação no Brasil atualmente, das quais apenas 49% são legalizadas. [dados da ONG Viva Rio]
21,72 óbitos em cada grupo de 100.000 habitantes é a taxa de mortalidade por arma de fogo no país, conforme estudo da Unesco. Essa taxa triplicou num período de vinte anos no país.
2ª é a posição do país no ranking de mortes por armas de fogo, perdendo só para a Venezuela (30,34 a cada 100.000). O Japão foi o país com melhor índice - apenas 0,06, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).
40.000 pessoas morrem anualmente com o uso de armas de fogo no país, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Mesmo representando 2,8% da população mundial, o país tem 11% dos homicídios.
63,9% dos homicídios cometidos no Brasil são praticados com arma de fogo, conforme números do Datasus. A segunda principal causa, com 19,8% dos homicídios, é o uso de arma branca.
20 a 29 anos é a faixa etária com maior taxa de mortalidade por arma de fogo entre os homens, com 103,1 óbitos por 100.000 habitantes. Dos 15 aos 19 anos, a taxa é de 71,2, e dos 30 aos 39 anos, o índice é de 57,7.
Pra finalizar, prestem atenção à legenda final do filme:
ENQUANTO TRAFICANTES DE ARMAS CONTINUAM PROSPERANDO, OS MAIORES FORNECEDORES DE ARMAS NO MUNDO SÃO USA, INGLATERRA, RÚSSIA, FRANÇA E CHINA.
ELES SÃO TAMBÉM OS CINCO MEMBROS PERMANENTES DO CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÕES UNIDAS.
Irônico, não?!
::
Bom, a conclusão vou roubar de João Luís Almeida Machado, Doutor pela PUC-SP , pois creio que retrata exatamente minhas conclusões:
“O Senhor das Armas, a despeito da inerente violência de sua trama é um filme que pode se tornar um libelo em favor da paz. As mortes narradas nesse empolgante thriller, que tem como referência a história verdadeira de um contrabandista de armas, devem incentivar as pessoas a cobrar mais determinação dos governos em sua luta contra o comércio ilegal de armas e, principalmente, nos forçar a exigir de nossos líderes políticos um real compromisso de banimento das armas e da violência na Terra…”
Fonte: Blog Drops por Marcelo::
Passando dos Limites (Noise) - com Tim Robbins
Passando dos Limites (Noise) | |
Elenco: Tim Robbins, William Hurt e Bridget Moynahan. | |
| Direção: Henry Bean e Martin Schmidt | |
| Gênero: Drama | |
| Distribuidora: Flashstar | |
Sinopse: Tim Robbins é David Owen, um americano que se muda para Nova York e se apaixona pela cidade. Mas tem um problema: o barulho da metrópole o deixa à beira de um ataque de nervos. Quando chega ao seu limite, David se transforma e começa a destruir carros que disparam seu alarme no meio da noite. Após ser preso em flagrante, volta às ruas e agora com o apoio dos nova-iorquinos, ele se apelida de o “Retificador” e trava uma batalha contra o barulho e o prefeito Schneer. | |
RESENHA CRÍTICA "PASSANDO DOS LIMITES"
por Luis Pires - Jornalista e Crítico de Cinema
e-
PASSANDO DOS LIMITES - FOTO DIVULGAÇÃO
CRÍTICA - PASSANDO DOS LIMITES: Uma das regras do bom jornalismo dita que devemos evitar textos na primeira pessoa. Mas não resisti à tentação de preparar essa resenha visceral, de tanto que me identifiquei com David Owen, personagem do filme Passando dos Limites.
Há alguns meses fui assistir a um filme no Reserva Cultural. Para quem não mora em São Paulo, esclareço que é um cinema moderno, localizado na Avenida Paulista, anexo ao qual existe uma boulangerie. Sem aperceber-me do preço do ingresso, quase caí de costas quando cheguei à bilheteria: R$ 18 (combinemos: um valor desses para assistir a um filme, por melhor que seja, é muita grana).
Decidi assistir ao filme mesmo assim mas, pela primeira vez na vida, meio arrependido de tê-lo feito. Porém, bastou a luz se apagar e a tela se iluminar para que essa sensação ruim fosse embora. O cinema é para mim uma paixão, uma das coisas que fazem a vida valer a pena. O filme era sobre um músico alemão que viajou para a Turquia para captar os sons de músicos de rua do país. Um filme maravilhoso, principalmente para quem gosta de conhecer sons diferentes, como eu.
Entretanto, logo na fileira atrás da minha, havia um sujeito que resolveu acompanhar as músicas batendo o pé no chão, quando não na minha cadeira. Eu não sei se sou azarado mas, nos últimos dois anos, em 99 % das vezes em que fui ao cinema houve gente conversando por perto, que passou o filme inteiro comendo aquele interminável copão de pipoca ou coisa do gênero. Meu poder de concentração é baixo e esse tipo de situação me tira do sério a ponto de eu não conseguir curtir o filme direito. Geralmente saio do cinema à beira de um ataque de nervos, arrependido de não ter tido coragem de esganar a pessoa mal-educada com a qual tive o desprazer de conviver durante algumas horas. Mas a sociedade civilizada não permite que eu o faça sem que seja penalizado. Felizmente.
Mas voltemos à minha identificação com David Owen: Passando dos Limites parte de uma pesquisa que relata que apenas 0,5 % dos roubos são impedidos por conta dos alarmes instalados nos automóveis. Mesmo assim, quase a totalidade dos carros que rodam em Nova Iorque possui o acessório. O que torna comum que os alarmes disparem indevidamente durante as madrugadas. Por lei, eles precisam desligar em três minutos. Por isso, são programados para desarmarem automaticamente somente depois desse período. Situação que enlouquece Owen, interpretado por Tim Robbins.
Cansado de reclamar com as autoridades competentes, ele decide sair pela cidade quebrando os carros com alarmes disparados, o que evidentemente lhe causa problemas com a justiça. Por conta dessa sua fixação, é preso diversas vezes, perde o emprego e também sua linda esposa (Bridget Moynahan). Mas num episódio em que destrói o alarme de uma loja, Owen sente a simpatia dos vizinhos e se anima a criar “O Retificador”, personagem do qual vai se utilizar para quebrar os autos com alarmes disparados. Logo sua cabeça é colocada a prêmio pelo prefeito da cidade, brilhantemente interpretado por William Hurt.
O filme é uma crítica mordaz às situações nas quais uma linha tênue separa os direitos de cada cidadão. Até que ponto o direito de alguém a ter um alarme no seu carro pode interferir no de outra pessoa ao sono, interrompido pelas sirenes indevidas? Até que momento o direito de um cidadão a falar alto ao celular dentro de um restaurante pode interferir no de um outro a ter uma refeição sossegada? São questionamentos levantados pelo diretor e roteirista Henry Bean em Passando dos Limites, que chega às locadoras nessa semana, lançado pela Flashstar Filmes diretamente em DVD, sem ter passado pelos cinemas do Brasil. Para assistir e pensar.
Ficha Técnica
Passando dos Limites (Noise - EUA – 2007 – 90 min)
Direção e roteiro: Henry Bean
Música: Phillip Johnston
Estúdio: Seven Arts/Fuller Films
Distribuição: Flashstar Filmes
Elenco: Tim Robbins, Bridget Moynahan, William Hurt, Margarita Levieva, Gabrielle Brennan, William Baldwin.

















































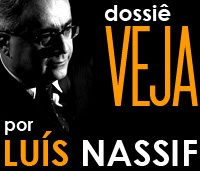




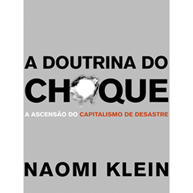















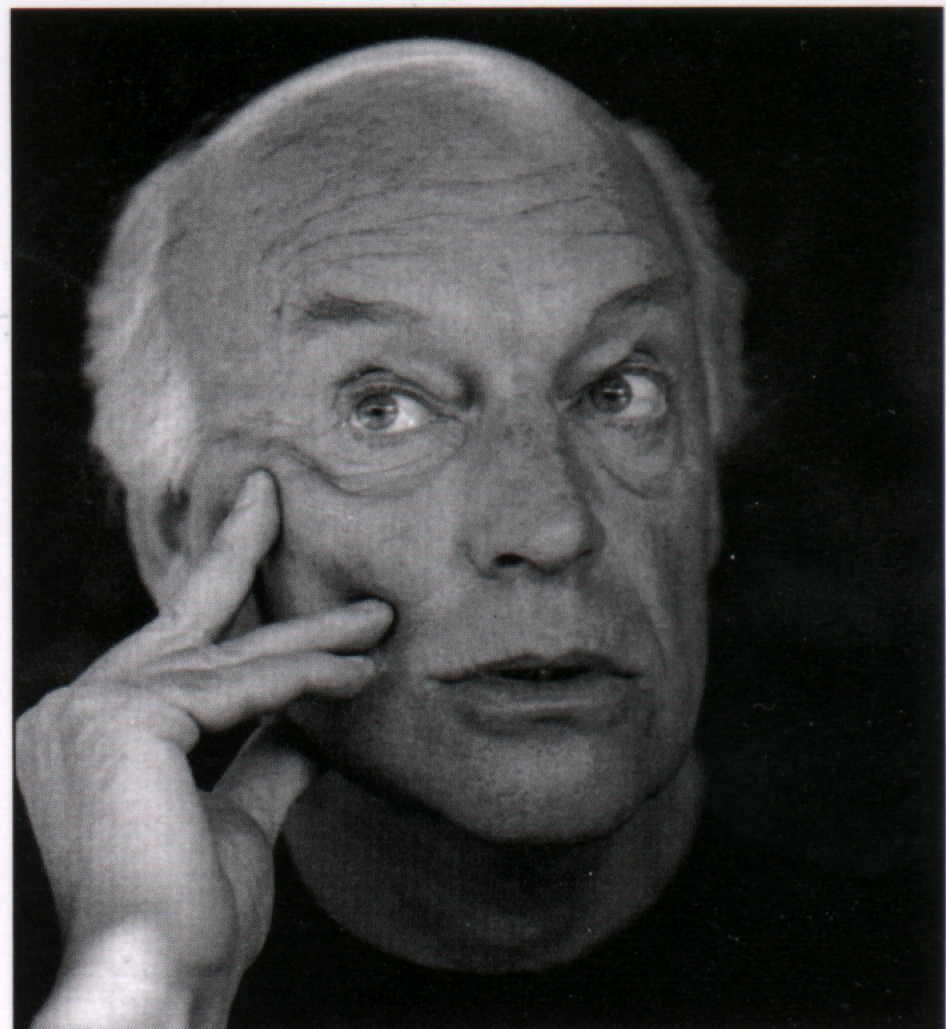



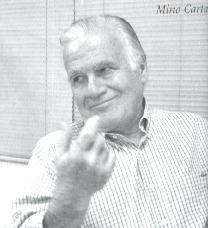

Nenhum comentário:
Postar um comentário